O desenvolvimento de atividades lúdicas no ensino de Ciências por estudantes de Pedagogia
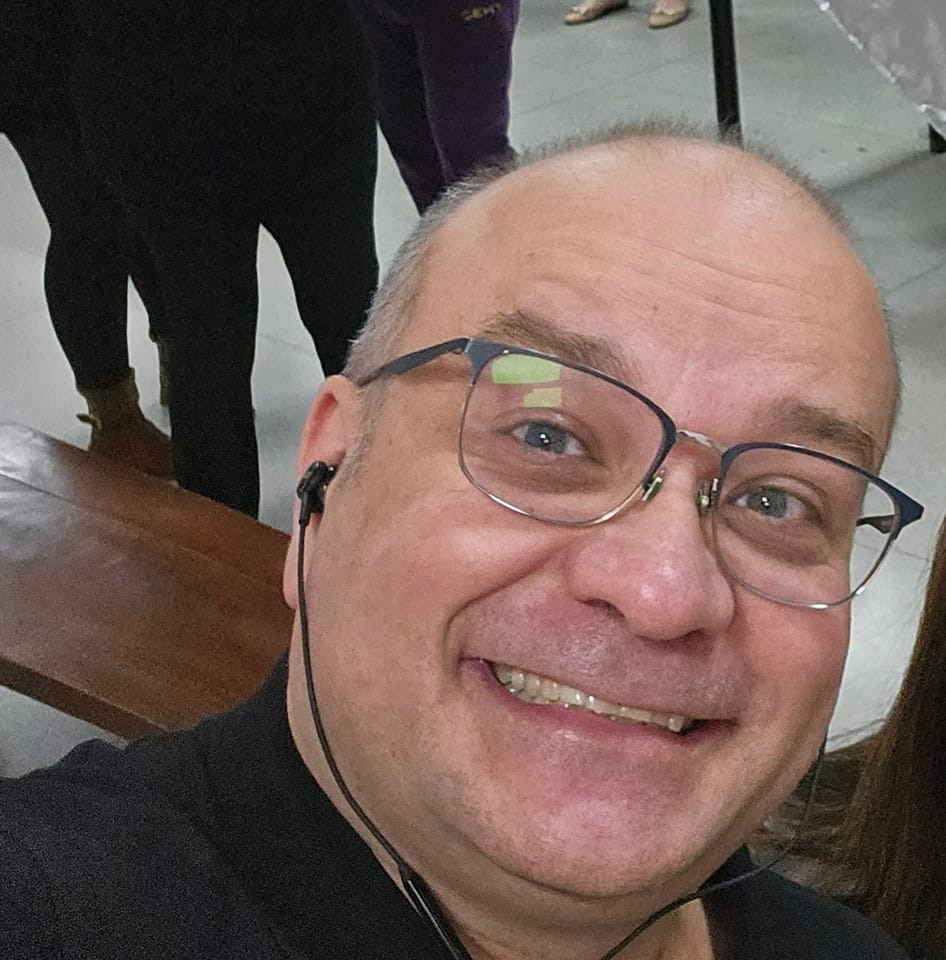 Claudio Wagner Locatelli, egresso do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática, pesquisou, durante o mestrado, acerca da elaboração e do uso de atividades lúdicas no ensino de Ciências na educação básica.
Claudio Wagner Locatelli, egresso do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática, pesquisou, durante o mestrado, acerca da elaboração e do uso de atividades lúdicas no ensino de Ciências na educação básica.
Um de seus principais objetivos era identificar quais saberes os estudantes de Pedagogia acessam e mobilizam na construção de atividades lúdicas para ensinar Ciências no ensino fundamental. Para tanto analisou, dentre outras questões, concepções prévias, saberes docentes e lacunas na formação de uma turma de alunas do curso de Pedagogia de uma universidade paulista.
De acordo com o egresso, uma das principais contribuições de sua pesquisa foi abordar o tema a partir da perspectiva docente – isto é, o processo de criação e elaboração de atividades lúdicas por parte dos que as aplicam, ou seja, os professores –, visto que, segundo o mesmo, a maioria das pesquisas a esse respeito enfatiza as contribuições para a aprendizagem discente.
Além de mestre, Claudio é doutor em Ensino e História das Ciências e da Matemática pela UFABC. É graduado em Direito, Pedagogia, Ciências Biológicas, Letras, História e Matemática, e realizou diversos cursos de especialização. Atua como professor tutor em cursos técnicos, de graduação e de especialização EaD.
...
Dados | Egresso
Nome completo
Claudio Wagner Locatelli
Formação acadêmica (cursos e instituições)
∙ Doutor em Ensino e História das Ciências e da Matemática pela UFABC;
∙ Mestre em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática pela UFABC;
∙ Especialista em: Metodologia do Ensino da Matemática; Alfabetização e Letramento; Psicopedagogia clínica e educacional; Planejamento, implementação e gestão em EaD; Ciências da Natureza, suas tecnologias e o mundo do trabalho; Linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho; Ciências Humanas, suas tecnologias e o mundo do trabalho; Matemática, suas tecnologias e o mundo do trabalho; e Currículo e prática docente nos anos inicias do ensino fundamental; e Mídias na Educação. Cursando Especialização em Informática na Educação; Tutoria em Educação a Distância e Técnico em Recursos Humanos;
∙ Graduado em Direito, Pedagogia, Ciências Biológicas, Letras - Português, História e Matemática.
Profissão / experiência profissional
Atuo como Coordenador de Área - Formação de Professores, Coordenador de Documentação e Regulatório no Centro Universitário UniBTA e no Centro Universitário UFBRA.
Tutor no Curso de Especialização 'Ciência é 10' (UFABC/UAB/CAPES) e no SENAR (Curso Técnico em Agricultura e Curso Técnico em Agropecuária).
Programa de pós-graduação e curso (mestrado ou doutorado) concluído na UFABC
Mestrado e Doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática.
Como sua trajetória neste curso de pós-graduação na UFABC contribuiu para sua formação?
Preparou-me para a formação docente e, no dia 15 de maio de 2024, defendi meu doutorado no mesmo programa.
...
Dados | Dissertação
Título
Atividades lúdicas no ensino de Ciências: estudando a mobilização de saberes docentes de estudantes de Pedagogia
Data da defesa
21 de agosto de 2016
Nome da orientadora
Profa. Dra. Maísa Helena Altarugio
Linhas de pesquisa
Formação de professores; ensino de ciências; anos iniciais do ensino fundamental; ludicidade.
Link para a dissertação
...
Questões | Pesquisa
Qual o tema da sua pesquisa e por que o escolheu?
Iniciar esta pesquisa dentro da área de formação em ciências, com referências teóricas sobre os saberes docentes e a construção de jogos, instigou ainda mais o meu trabalho, uma vez que faz dez anos, aproximadamente, que tenho atuado em Ciências Biológicas. Naquele momento, as possibilidades de lecionar eram distantes, pois estava muito envolvido com a área do Direito – minha primeira formação. Cinco anos depois, finalizei a Licenciatura em Pedagogia e, durante o estágio supervisionado na educação infantil e nos anos iniciais, confirmou-se a aptidão para a docência. Enquanto pesquisador lecionei, de forma polivalente, no quinto ano do ensino fundamental, e foi possível perceber a importância do lúdico dentro da sala de aula, em especial em aulas de Ciências e Matemática. Percebi, ainda, que o uso do lúdico em sala de aula parecia favorecer a aprendizagem dos alunos. Havia, também, grandes expectativas e envolvimento dos alunos quando eram discutidos temas pertinentes à disciplina de Ciências, como, por exemplo, reciclagem de materiais, escassez de água etc. Após essa fase, já atuando no ensino superior em uma instituição privada na cidade de São Paulo, e envolvido com questões mais pertinentes ao ensino de ciências na formação inicial de pedagogos, surgiu o interesse em desenvolver essa pesquisa. Houve a percepção de lacunas nessa formação no caso do pedagogo; e também, curiosamente, no que concerne à ludicidade em sala de aula, mais especificamente, na relação dos fundamentos teóricos com a prática. Desde o ingresso no mestrado surgiu, então, a possibilidade de investigar esse contexto, tentando compreender como os estudantes de Pedagogia mobilizam os saberes, levando em conta todas as deficiências formativas, quando desafiadas a trabalhar de forma lúdica com conceitos da área de Ciências.
Quais eram seus objetivos (gerais e específicos)?
Considerando o público-alvo desta pesquisa – uma turma de 19 alunas do curso de Pedagogia (4º semestre), de uma universidade privada paulista, na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, empenhada no desafio particular de construir atividades lúdicas para ensinar tópicos de Ciências para alunos de séries iniciais –, foram traçados os seguintes objetivos:
Objetivos gerais: identificar quais saberes as estudantes de Pedagogia acessam e mobilizam na construção de atividades lúdicas para ensinar Ciências no ensino fundamental;
Objetivos específicos: levantar as concepções prévias das estudantes sobre o uso de atividades lúdicas no ensino fundamental; identificar e analisar os saberes docentes presentes nas concepções prévias, além das lacunas na formação lúdica das estudantes; identificar e analisar quais saberes estão presentes e articulados na construção de jogos para o ensino de Ciências.
Como foi sua realização (materiais e métodos, metodologia, corpus etc.)?
Trabalhou-se em uma pesquisa qualitativa do tipo etnográfica, para abordar a compreensão de fenômenos da área da educação. Esse tipo de pesquisa pode ser caracterizado como aquele em que há uma valorização do universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que correspondem a um espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Outros autores também reforçam essa ideia ao trazerem à tona algumas características da pesquisa qualitativa, como as que versam sobre o ambiente natural ser uma fonte direta de dados nesse tipo de pesquisa, em que o pesquisador é o principal instrumento; os dados coletados são essencialmente descritivos; e a preocupação principal é o processo e não o resultado. Ressaltam, ainda, que os significados que os diversos sujeitos atribuem às coisas também são objeto de pesquisa do pesquisador. Nesse intuito, pode-se ressaltar que é de caráter indutivo, pois não se busca a comprovação de hipóteses anteriormente definidas. O foco de pesquisa se aprimora com o passar do processo de pesquisa. O objeto de pesquisa é sempre observado de um determinado lugar, em que estão envolvidas a subjetividade do pesquisador e a bagagem teórica. Quanto à abordagem etnográfica, ressalta-se que não se trata de um estudo etnográfico clássico, e sim uma pesquisa qualitativa de caráter etnográfico. A etnografia servirá de base teórico-metodológica, trazendo inúmeros desafios para a pesquisa educacional. A pesquisa etnográfica ganhou destaque na década de 1970, com base na sala de aula e avaliação de currículo. Esse tipo de pesquisa ganha enfoque com a superação de problemas, incorporando a multiplicidade de sentidos contidos no contexto da sala de aula.
Quais foram os desafios enfrentados?
Sala de aula em uma universidade privada.
Quais foram os principais resultados alcançados?
Ao analisar as concepções das estudantes sobre a ludicidade na educação infantil, de forma geral, à luz das dimensões lúdicas, não se tinha a intenção de identificar noções verdadeiras e falsas. Considerando que o instrumento reuniu os principais elementos que caracterizam as atividades lúdicas e que tem como proposta auxiliar os professores na avaliação e seleção de atividades lúdicas para seus alunos, ele permitiu revelar quais dessas dimensões são mais valorizadas pelas estudantes e quais dimensões deixam lacunas em seu perfil profissional. Sobre isso, é possível comentar, de um modo geral, que as concepções levantadas são marcadas por vários contrastes, desde o modo de conceber teoricamente a atividade lúdica, suas características e importância na educação infantil, até o modo como é colocada em prática. Entre os pontos que se pode destacar, percebe-se que as atividades lúdicas ainda são mais valorizadas em sua dimensão de diversão/prazer, ou seja, por seu aspecto recreativo. Talvez, porque uma parte das estudantes tenha uma visão simplista sobre jogos e brincadeiras. Atrelada a essa visão, existe uma tendência muito marcante das estudantes de improvisarem os momentos lúdicos com as crianças. Nesse sentido, acabam preteridas as dimensões educativa, reguladora e cultural, que exigem do profissional uma atenção maior ao planejamento, à escolha cuidadosa e prévia de atividades adequadas. O contraste fica aparente quando as estudantes concordam, pelo menos teoricamente, com a necessidade de se conhecer as turmas, de utilizar técnicas e de contar com o suporte do saber acadêmico para a aplicação de atividades lúdicas. Quando são observadas as fontes e origens dos saberes que emergem dessas concepções, com a ajuda de referenciais, é possível entender melhor esses contrastes. Para justificar a maior parte das respostas, percebe-se que as estudantes acessam mais frequentemente seus saberes da experiência profissional, e em outros momentos, os saberes da formação profissional, ou os saberes acadêmicos. Aparentemente, os saberes acadêmicos e os saberes dos programas e materiais usados no trabalho são acessados para dar conta de questões mais teóricas, envolvendo as características e o papel da ludicidade no desenvolvimento e educação das crianças, por exemplo. Os saberes da experiência são mais funcionais quando se trata de discutir problemas ligados ao fazer profissional; no caso, por exemplo, de preparar e aplicar atividades lúdicas. Uma característica dos saberes docentes implica que são situados, isto é, “são construídos e utilizados em função de uma situação de trabalho particular, e é em relação a essa situação particular que eles ganham sentido”. Após a aplicação do jogo “Situação-limite” foram realizadas entrevistas com as alunas, a fim de obter uma melhor caracterização dos sujeitos de pesquisa. Um dos intuitos dessa entrevista era verificar os saberes pessoais das alunas em suas fontes de aquisição, como, por exemplo, a família, o ambiente de vida, a educação no sentido lato etc.; e, também, saberes provenientes da formação escolar anterior como, por exemplo, a escola primária, secundária etc. Na maioria das respostas, foi possível averiguar que as mesmas brincaram muito durante a infância, com familiares e vizinhos das ruas – normalmente, ruas da periferia de São Paulo. Não citaram muitos jogos, e sim brincadeiras. Dentro do ambiente escolar, não vivenciaram situações didáticas com a utilização de atividades lúdicas. A única situação em que se aplicavam jogos (esportes) eram as aulas de Educação Física. As alunas alegam que sentiram falta de uma parte mais lúdica dentro do processo de ensino-aprendizagem delas. O questionamento que surge a partir dessas conclusões desloca a atenção para a formação dessas profissionais em quatro aspectos importantes, considerando a complexidade do campo lúdico e sua relevância para o segmento da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental I. O primeiro aspecto diz respeito à valorização da formação lúdica, tanto em termos teóricos quanto práticos. Essa formação visaria levar o futuro professor a compreender e executar, com mais qualidade e segurança, a tarefa de empreender atividades lúdicas com seus alunos, minimizando os conflitos que podem surgir, mesmo em situações que exigem improvisação. O segundo aspecto chama a atenção para a necessária articulação entre os diferentes saberes que circulam pela atividade docente. Saberes de caráter mais teórico, como os da formação profissional e dos programas e livros didáticos usados no trabalho, e saberes de caráter mais prático, como os pessoais e da experiência profissional, são natural e convenientemente acessados em situações particulares. No entanto, não podem permanecer dissociados e estanques. Cada um dos saberes agrega valores que não fazem sentido se estiverem separados. Acredita-se, portanto, que cabe à formação acadêmica, ou seja, ao formador de professores, expor esses saberes à consciência dos futuros professores e trabalhar, de modo reflexivo, a articulação e a integração entre eles – especialmente dentro da proposta da educação infantil. O terceiro aspecto a ser salientado é a visão simplista que as alunas possuem sobre o ensino de Ciências. As alunas, no contexto da pesquisa, têm uma tendência a afirmar que ensinar Ciências é fácil. Na apresentação dos trabalhos, porém, não se conseguiu aferir essa “facilidade”, até mesmo porque os conceitos apresentados pelos jogos não ficam bem esclarecidos. O quarto aspecto da pesquisa que se pode ressaltar é a insuficiência do ensino de Ciências e ludicidade apresentados durante o curso de Pedagogia. Em muitos trechos das transcrições, as alunas reclamam do ensino muito teórico e distanciado da relação prática que elas devem possuir dentro da sala de aula, como futuras professoras.
Descreva, resumidamente, a importância acadêmica e social de sua pesquisa, isto é, sua contribuição para o universo científico e o cotidiano das pessoas.
Das inúmeras pesquisas que se referem ao uso de atividades lúdicas como estratégia de ensino e ferramenta pedagógica para uso em sala de aula, a maioria destaca as contribuições para a aprendizagem dos alunos. Por outro lado, pouco se estudou, até o momento, sobre o processo de criação e elaboração dessas atividades por parte daqueles que as aplicam, ou seja, os professores. Essa pesquisa tratou de investigar as concepções sobre a ludicidade e as origens dos saberes, mobilizados por uma turma de estudantes de Pedagogia de uma faculdade privada da cidade de São Paulo, quando envolvidos no desenvolvimento de jogos para o ensino de ciências para alunos do ensino fundamental I. Ao mesmo tempo, além das especificidades relacionadas aos saberes docentes, a pesquisa identificou lacunas em relação à formação lúdica e científica advindas do curso de Pedagogia inserido nesse contexto. Desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa de caráter etnográfico, a pesquisa baseou-se em dados coletados em três fases, registrados por meio de áudio e vídeo, nas quais foram observadas as atividades realizadas pela turma de alunas, a produção dos jogos e as entrevistas. Para a análise dos resultados, utilizaram-se, principalmente, referenciais sobre “dimensões lúdicas” e sobre os saberes dos professores. Os resultados indicaram que as alunas parecem superar as dificuldades e deficiências de uma formação lúdica e científica acessando saberes que ultrapassam os da formação acadêmica, mobilizando saberes que advém da formação pessoal, de formações anteriores à profissional, além dos que extraem de experiências práticas, como os estágios e os provenientes dos programas e ferramentas de trabalho.
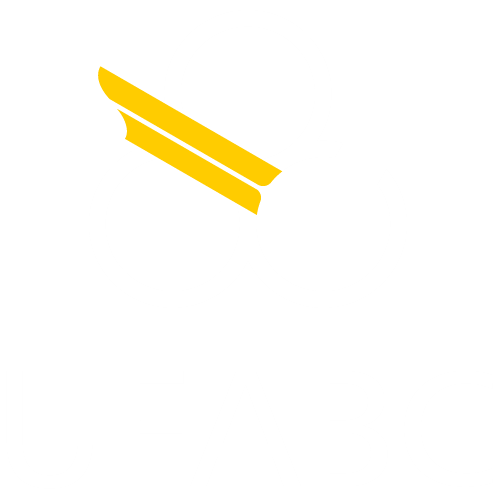
Redes Sociais